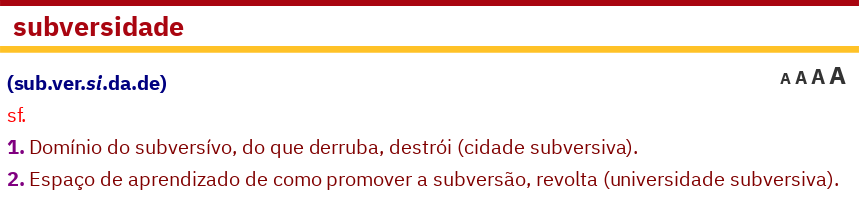Sobre sonhos e utopias Neste artigo usamos o jargão de Ernst Bloch, um filósofo alemão que dedicou sua vida a estudar a utopia. Para Bloch a palavra “utopia” tem um significado bastante diferente do sentido que ela costuma ter em círculos comunistas. Para ele, o comunismo científico é uma utopia, enquanto o comunismo utópico está […]
Categoria: Teoria
Bolsonaro e o Kitman
Na teologia muçulmana há um conceito interessante: o kitman. É a pessoa que defende um regime, mesmo tendo críticas a ele. Surgiu por conta de perseguições religiosas, da necessidade de manter a crença secreta, enquanto fingia outra. Em 1953, Czesław Miłosz se apropriou do termo para falar dos intelectuais poloneses que defendiam a dominação soviética […]
Contribuições para o debate sobre a criação de uma esquerda pós-socialismo
Como podem imaginar, não sou a favor da construção de um pós socialismo. Está no nome o blog. Mas vamos aos argumentos. A esquerda antes do socialismo científico A esquerda na verdade é mais velha que o socialismo utópico, e o utópico é mais antigo que o socialismo científico. O ponto central é que o […]